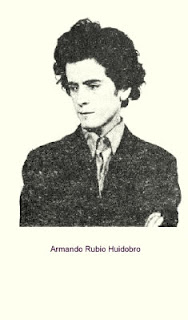quarta-feira, 17 de julho de 2013
A paciência
Já estou perdendo a paciência;
os dias passam:
nada.
Inconcebível
que nos alimentemos de gestos todos os dias
e em nosso desjejum não conste nenhum beijo.
Cada um coça sua cabeça,
resolve seus problemas:
sentamos à mesa
rimos às cegas.
Já estou perdendo a paciência;
o mais grave: não sei o que farei sem ela.
Fui cavaleiro, corredor e poeta:
nada vale a pena.
Assim não se prospera.
A festa segue a mesma.
Já estou perdendo a paciência.
Já não se morre de morte natural.
A morte não suporta diferenças.
Inconcebível:
a Terra segue dando voltas,
o mundo se apaixona e envelhece;
inconcebível:
a Terra segue, segue dando voltas,
e eu, eu que não perca a paciência!
Poema de Armando Rubio Huidobro (1955-1980). Do livro póstumo Ciudadano (1983).
segunda-feira, 8 de julho de 2013
Circulando, circulando
Tudo está proibido:
a letra, o pão, o vinho.
Frente a cada hora há um guarda
que nos diz: circulando!,
desapareçam, morram,
que lá dentro estão sentados à mesa,
e não devemos alterar o vento,
porque a injustiça tem
uma digestão difícil.
Circulando! Limpem as ruas,
lustrem as botas, pintem as casas,
para que a atmosfera brilhe
como se fosse uma joia,
porque os amos saem neste momento
para o seu passeio cotidiano,
e se deve acolchoar as ruas
com o cansaço mais sóbrio,
e se deve perfumar os mercados
com a desventura mais doce,
e se deve enfeitar as árvores
com feridas recentes,
e se deve levantar rápidos palácios
nos quais eles possam entrar
para descansar em qualquer parte,
mesmo onde há casas pobres
habitadas, nos cantos
onde há simples artistas
tecendo cestos de vime
para criar o pão sagrado,
ou berços essenciais ante os rostos
apaixonados do sol e da terra.
Circulando, circulando, circulando!
saiam das fendas, das últimas
rachaduras onde o trabalho masca
com boca desdentada, do buraco
mais sombrio onde cresce
a florzinha pálida de um menino.
Circulando, circulando, circulando!
já para a rua
com todas as suas coisas tristes,
empurrem para a morte os seus tísicos,
atirem longe os recém nascidos,
quebrem suas panelas com comida,
joguem suas mercadorias ao fogo,
desocupem logo o ar,
a luz, o amor, a esperança,
desocupem a miséria, os piolhos,
que os senhores querem se refrescar
precisamente aqui, a apenas
alguns metros de suas inumeráveis
mansões, e há que pôr tudo isso
abaixo em dois minutos.
Circulando, circulando, circulando!
ou melhor, ajudem, ajudem,
atirem logo suas coisas, seus filhos,
e ajudem, acendam vocês mesmos
o fogo de que precisam no inverno,
mas "com mais valentia", "mais rápido"
e "nada de lágrimas", "nem parecem patriotas"!
Ajudem, destruam tudo,
tragam madeira perfumada,
consigam as mais finas nuvens,
arrastem um pedaço de geleira
para o coquetel, tragam todas
as corolas da primavera
para utilizá-las como copos,
com todo o cansaço da terra
façam rápido uma rede,
trabalhem, trabalhem, trabalhem!
asfaltem o chão com estrelas,
e apressem-se, que os embaixadores se inquietam,
limpem o ar com os braços,
cubram os frutos com lágrimas
frescas, e terminem, esgotando
o esforço de toda a vida,
esta fina pracinha improvisada
para que os amos descansem
por um segundo. Muito bem!
Poema de Efraín Barquero (1931). Do livro La piedra del pueblo (1954).
Tradução dedicada aos desabrigados, incendiados e assassinados pela especulação imobiliária na cidade de São Paulo.
sábado, 6 de julho de 2013
Verão de 1979: começo de um novo block
NO LIMITE da linguagem
me canso.
Então, qualquer palavra
É um regresso, um
para-trás
Ou talvez
Nada mais que a cabriola,
A pirueta, o foguete ou
O petardo: ruído
Breve, tudo
Passa.
Há limites na
linguagem?
Ou só falta o que dizer: o
Sentido. E o som? A rajada
De palavras, o e s t a l a
r?
Ruído breve,
tudo passa.
A vivência: outro marco ou
Ponto de referência. In-transferível
Substância: comunicável, talvez, por
telepatia
-mas não por poesias, mas
não por escritura.
Pra quê?, por quê? O
silêncio.
Melhor. Melhor
Nada.
Poema de Rodrigo Lira (1949-1981) que encerra Proyecto de obras completas.
segunda-feira, 1 de julho de 2013
A vida nova
MEU DEUS É FOME
MEU DEUS É NEVE
MEU DEUS É NÃO
MEU DEUS É DESENGANO
MEU DEUS É CARNIÇA
MEU DEUS É PARAÍSO
MEU DEUS É PAMPA
MEU DEUS É CHICANO
MEU DEUS É CÂNCER
MEU DEUS É VAZIO
MEU DEUS É FERIDA
MEU DEUS É GUETO
MEU DEUS É DOR
MEU DEUS É
MEU AMOR DE DEUS
Poema de de Raúl Zurita (1950). Os versos foram escritos, com fumaça, no céu da cidade de Nova York, em 1982. Os registros fotográficos apresentados aqui foram feitos por Ana Maria Lopez e Lionel Cid e estão publicados no livro Anteparaíso. Um registro parcial em vídeo pode ser visto aqui. A ideia das escrituras no céu foi apropriada por Roberto Bolaño na sua novela Estrela distante. Abaixo, apresento trechos de uma entrevista (concedida a Chiara Bolognese, disponível aqui) em que Zurita comenta a sua relação com a visão do Chile e com a obra de Bolaño.
*
(...)
Você já tinha lido Bolaño antes da publicação de Estrela distante? O que pensa da literatura dele? Sua opinião mudou depois de ter sido "usado" como personagem?
RZ: Não. Soube de Bolaño apenas no final dos anos noventa, porque Carlos Olivares, um escrito chileno que morreu há alguns anos, me falou dessa novela, e a comentou comigo precisamente porque havia um personagem que escrevia poemas no céu. Me pareceu fantástico, e certa vez que me perguntaram sobre isso respondi que um artista tinha o direito de pegar o que quisesse, de onde quisesse, sem pedir permissão a ninguém, e que se as escrituras sobre Nova York tinham servido para modelar um personagem, estupendo. Nunca li a novela inteira, me refiro a lê-la do princípio ao fim, porque, claro, a minha curiosidade era saber que diabos outra pessoa poderia escrever no céu. Foi uma desilusão. Senti que ele fazia que seu personagem escrevesse tudo o que eu teria descartado em dois segundos, obviedades como frases em latim e coisas assim; foi como ver meus rascunhos. Não, o autor da novela não tinha entendido nada, estes versos eram óbvios e maus, além de tecnicamente impossíveis. Com um avião daqueles você não pode escrever essas frases, Wieder acabaria vomitando até as tripas com tantas voltas. Seria preciso cinco aviões que voassem em linha reta. Seria preciso uma esquadrilha.
Você e Bolaño representam duas formas diferentes de suscitar e de estar entre as polêmicas do mundo cultural chileno. Refiro-me a esse universo que Bolaño sempre criticava e agitava assim que chegava ao Chile, e que também lhe tratou bastante mal, certo? Pode falar um pouco sobre isso?
RZ: Um poeta não pode se limitar, é uma bobagem fazê-lo, porque os outros já o farão, e muito; não terão passado cinco minutos e logo vão dizer que isso não pode, que isso não é poesia, ou que você está louco. Acho que sei algo a respeito disso, é muito chileno. Mas eu permaneci ali, construímos sob uma ditadura, fizemos as ações de arte sob a ditadura, não fazíamos coisas chiques como virar poetas malditos interrompendo uma leitura de Octavio Paz. Imaginar poemas escritos no céu ou traçados sobre o deserto de Atacama foi minha íntima forma de resistência, de não me resignar, de não morrer na noite feroz do Chile. Inventei as ações de arte que fizemos com o CADA, como lançar, de alguns aviões, quatrocentos mil panfletos sobre Santiago em 1980, em plena ditadura, porque toda a nossa vida estava nisso, toda nossa juventude, nosso medo e nossa beleza. Nos tocou, a mim e a Bolaño, viver em mundos muito diferentes, e as coisas que atacamos sob una mesma palavra, Chile, eram duas coisas diametralmente distintas, que jamais se juntaram e que só têm em comum a palavra dor. Os amigos de Bolaño eram crianças fazendo travessuras, pequenas maldades no DF. Nós tivemos que aprender em dois segundos a viver sob as barbas de Pinochet, não tínhamos tempo para esse passatempo inocente de inventar-nos uma marginalidade ad hoc, não éramos infrarrealistas. Pessoalmente, teria trocado o pior dos empregos que Bolaño teve pelo melhor dos empregos que eu consegui ter nesses anos. Eu roubava livros nas livrarias não para lê-los, mas para vendê-los e poder comer. Tudo isso não diminui em nada a envergadura de Os detetives selvagens que li, imagino, com a mesma devoção com que ele leu Anteparaíso, de onde tirou as escrituras no céu.
(...)
Nestas páginas se delinearam analogias e diferenças entre sua visão do Chile e da ditadura e a visão de Bolaño. O que pensa da poética de Bolaño? No que concorda e no que discorda? Acredita que o Bolaño poeta sobreviverá?
RZ: A poesia de Bolaño, me refiro ao que ele ou seus editores ou seus herdeiros qualificaram como tal, é insuportável, mas não são piores que os poemas de William Faulkner, e Faulkner conseguiu ser Faulkner como Bolaño conseguiu ser Bolaño. O que quero dizer é que para quem se importa com isso, não conseguir escrever um poema minimamente passável e perceber que se é um péssimo poeta, produz um sentimento de frustração, de fracasso, de vacuidade, de inutilidade, que só restam duas possibilidades: ou você passa a fazer parte do exército dos ressentidos, dos quais o mundo está cheio e diante dos quais o melhor é fazer o que Virgílio diz a Dante no começo do terceiro canto do Inferno: "guarda e passa", ou você escreve The sound and the fury. Então, que providencial que William Faulkner, que Julio Cortázar, que Roberto Bolaño, tenham sido péssimos poetas; como compensaram! As grandes obras que eles criaram compartilham uma condição paradoxal: foram extraordinários escritores graças a terem sido horripilantes poetas.
Assinar:
Postagens (Atom)